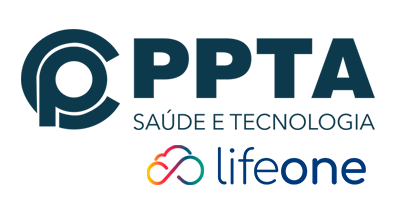As mortes por covid-19 têm crescido mais rapidamente no Brasil em municípios de menor porte, marcados, em muitos casos, pela pobreza e por uma estrutura precária de atendimento à saúde.
Quando o país atingiu 100 mil mortes pelo novo coronavírus no início de agosto de 2020, mais da metade (51,4%) dos óbitos estava em cidades acima de 500 mil habitantes. Outros 15,5% eram de cidades com até 50 mil habitantes.
Em janeiro deste ano, no entanto, quando o país bateu 200 mil mortes, a participação das cidades grandes nessa segunda centena de milhar de óbitos caiu para 39,4%, enquanto que municípios menores passaram a representar 23,1%.
O crescimento das mortes em cidades pequenas é um processo natural, segundo Roberto Kraenkel, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e membro do Observatório Covid-19 BR. “Não existe nenhuma medida sendo tomada que evite a interiorização da pandemia e, assim, da doença e das mortes”, afirma.
Os óbitos chegam, porém, “atrasados” às cidades menores porque o ciclo pandêmico começou mais tarde nesses locais, aponta Samuel do Carmo Lima, coordenador do Laboratório de Geografia Médica e Vigilância em Saúde da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
“Enquanto cidades grandes já estavam com muitas infecções, várias menores não tinham nenhum caso”, lembra ele. “Dois ou três meses depois é que começa efetivamente nas cidades com menos de 50 mil habitantes”, diz o professor, que analisou a difusão da covid-19 na rede urbana de Minas Gerais.
Nas cidades pequenas, as “oportunidades” de aglomerações tendem a ser menores, sobretudo no transporte público, mas algumas poucas pessoas contaminadas já podem estabelecer uma relação percentual importante, diz Lima. “Em alguns lugares, dez pessoas contaminadas viram um surto.”
Embora a chegada da doença às cidades pequenas fosse esperada, Kraenkel chama a atenção para a complexidade do “fenômeno da mortalidade”. Os óbitos por covid-19 não são só proporcionais às pessoas que adoecem, diz ele. Existe um “acréscimo de mortalidade”, por exemplo, pela falta de serviços públicos. “A interiorização da doença se dá pela movimentação, mas a porcentagem de pessoas doentes que virão a falecer pode depender de uma série de condições socioeconômicas”, afirma Kraenkel.
Na Bahia, a Superintendência de Estudos Econômicos Sociais do Estado (SEI) percebeu que, embora a zona cacaueira (onde estão Ilhéus e Itabuna) seja menos urbanizada e adensada do que a região de Salvador/Camaçari, sua taxa de contaminação para covid até setembro era muito superior - 40 infectados a cada mil pessoas, ante 28.
“Existem outros fatores, mais qualitativos. Essa é uma das regiões mais críticas da Bahia do ponto de vista social, de indicadores de vulnerabilidade. Investiu-se muito pouco em educação e a pobreza gerada pela crise do cacau foi enorme”, diz Edgard Porto, diretor de estudos da SEI.
Na região amazônica, por sua vez, dinâmicas relacionadas à natureza, como o transporte fluvial, são fundamentais para se pensar o acesso de cidades menores à saúde, afirma Natacha Aleixo, professora do departamento de geografia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
“Temos a maior média de deslocamento para tratamentos em serviços de saúde de alta complexidade. São distâncias, às vezes, superiores a mil quilômetros. Precisaríamos de mais helicópteros, UTIs móveis. É por isso que muitas pessoas estão morrendo em casa.”
Membro da Rede de Geógrafos para Saúde, Natacha participou de estudo que analisou a difusão da covid-19 nas cidades amazonenses. Todos os 62 municípios do Estado registram óbitos pela doença. Natacha diz que a situação é “bastante preocupante” nas cidades do interior porque a precariedade de serviços de saúde mais complexos é grande, mas até mesmo na atenção básica há deficiências, como no programa Saúde da Família. “Quando não tem acompanhamento da população mais vulnerável de perto, o agravamento ocorre”, afirma ela.
A regionalização do SUS é uma estratégia elogiada pelos especialistas. “Imagine uma cidade de 40 mil habitantes com grande hospital, serviços de alta tecnologia. Eles ficariam ociosos boa parte do tempo, não tem lógica de escala”, diz Lima, da UFU. O SUS possui, segundo ele, mecanismos para que pequenos municípios tenham acesso direto aos polos regionais. O problema, diz, é que “o SUS está sucateado”. “A cidade média não está com capacidade instalada para atender nem a sua população.”
Para Natacha, a distribuição de serviços mais complexos pelo território, principalmente no caso do Amazonas, ainda é deficiente. “Existe a regionalização feita pelo Estado e existe aquela vivenciada pela população. O SUS tem que ter uma quantidade mínima de pessoas atendidas para oferecer certos serviços em um local, mas temos cidades com funções importantes no nível regional que deveriam ter esses serviços também”, diz ela. “Precisamos repensar a logística para casos graves acessarem serviços de saúde quando ocorre um fenômeno como a pandemia, porque isso não foi pensado.”
O ritmo de crescimento das mortes nas cidades pequenas vai depender da compreensão que os gestores tiverem da pandemia, diz Lima. Para ele, a lógica tem sido muito “hospitalocêntrica”, isto é, focada nos leitos. As cidades que, por sua vez, compreenderem ser primordial fazer prevenção, devem se sair melhor.
Além disso, em cidades menores, “dar o exemplo” importa ainda mais. “Municípios pequenos ficam olhando para o governo federal e as grandes cidades. Mas, em nível federal, nunca tivemos uma orientação efetiva”, afirma Lima.
Obrigado por comentar!