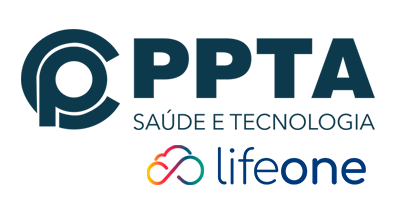A fronteira entre tecnologia e cuidado nunca esteve tão próxima. Sensores cada vez menores, algoritmos mais inteligentes e plataformas interoperáveis estão preparando o terreno para uma nova lógica na saúde: o cuidado contínuo, alimentado por dados que fluem em tempo real entre paciente, equipe médica e sistemas de informação.
No Brasil, esse movimento ainda é incipiente, mas avança rápido em universidades, start ups deeptech e centros de pesquisa que desenvolvem biowearables de alta precisão, bioreceptores capazes de detectar alterações metabólicas em segundos e soluções de monitoramento remoto voltadas ao acompanhamento de doenças crônicas. Iniciativas de parceria universidade-indústria, laboratórios de wearables e programas de aceleração têm produzido protótipos que, em poucos anos, podem redefinir a lógica do cuidado.
“A transição do cuidado reativo para o cuidado proativo representa uma mudança estrutural na medicina — e os dados contínuos são o coração dessa transformação”, diz Willyan Hasenkamp, Co-Founder & CEO da Biosens, uma deeptech brasileira dedicada ao desenvolvimento de diagnósticos point-of-care (POC).
Para o executivo, enquanto a medicina tradicional depende de pontos isolados de informação, dispositivos point-of-care (POC) descentralizados permitem coletar dados no instante e no local em que o cuidado acontece. “Esses fluxos alimentam algoritmos de inteligência artificial que precisam de volume, variedade e atualização constante para refletir a complexidade da vida real.”
Hasenkamp continua, explicando que, com acesso a dados frequentes, altera-se a forma de atuação do profissional de saúde. “Em uma emergência, o resultado de um exame pode ser analisado em minutos, acelerando decisões. No entanto, a base dessa mudança é clara: sem dados confiáveis capturados por biossensores não há inteligência artificial verdadeiramente preditiva.”
A Biosens estruturou sua plataforma segundo padrões globais como HL7 e FHIR — os mesmos utilizados pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Isso permite que resultados de testes POC sejam enviados diretamente ao prontuário eletrônico e à infraestrutura nacional de saúde digital.
Ainda assim, Hasenkamp ressalta que a interoperabilidade é apenas o “último quilômetro” da jornada. “Sem dados capturados com precisão na ponta do cuidado, nenhuma integração gera valor.”
No dia a dia, os desafios ainda são muito para que os biossensores saiam do laboratório e possam se tornar de uso massivo. Dentre eles, o executivo cita aspectos regulatórios, validação científica, custo e produção em escala. A interoperabilidade, embora relevante, na opinião de Hasenkamp, é considerada um obstáculo menor quando comparada aos gargalos produtivos e de hardware.
Interoperabilidade ainda é um desafio
De acordo com Grace Teresinha Marcon Dal Sasso, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), o Brasil atravessa um momento crucial de maturação na interoperabilidade em saúde.
“Após décadas de iniciativas fragmentadas, a adoção do HL7 FHIR como padrão estruturante da RNDS inaugurou uma nova fase: mais moderna, mais conectada e alinhada às melhores práticas internacionais. Essa mudança foi um ‘divisor de águas’ que reposicionou o país no debate global sobre arquitetura digital em saúde.”
Grace destaca que a expansão da RNDS — hoje já integrando dados de vacinação, exames laboratoriais, atendimentos clínicos e novas camadas conectadas à saúde suplementar — é um dos maiores avanços do período recente.
“O Brasil também tem investido em guias públicos de implementação, participação em laboratórios colaborativos FHIR e consolidação institucional via SUS Digital e Estratégia de Saúde Digital 2028, documentos que definem prioridades estratégicas para os próximos anos.”
Ainda assim, os gargalos continuam expressivos. A heterogeneidade entre municípios, hospitais e prestadores privados segue sendo um dos principais entraves para a adoção uniforme dos padrões.
“Muitas unidades ainda produzem dados não estruturados, incompatíveis com terminologias clínicas ou sem aderência aos perfis FHIR. A governança da informação é frágil em muitos locais, e a formação técnica — tanto de profissionais de TI quanto das equipes assistenciais — ainda é insuficiente para garantir a aplicação correta de modelos, terminologias e boas práticas de interoperabilidade”, avalia Grace.
Na opinião da especialista, qualidade e integridade dos dados não são apenas requisitos técnicos — são o alicerce de todo o ecossistema digital. Ela defende uma abordagem baseada em: modelagem robusta da informação pautada em FHIR; terminologias clínicas padronizadas (SNOMED CT, LOINC, CID-10, CID-11); governança formal de dados, com dicionário único, validação automática, monitoramento, rastreabilidade e trilhas de auditoria; boas práticas de captura e registro no ponto do cuidado; e gestão completa do ciclo de vida dos algoritmos de IA, com mitigação de vieses, auditoria e avaliação contínua de desempenho.
“Além disso, marcos regulatórios como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as diretrizes da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e políticas do Ministério da Saúde precisam convergir para garantir uso ético, seguro e centrado no paciente.”
A adoção de tecnologias tem recebido apoio estruturado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Um dos principais mecanismos dessa estratégia é o Programa e Projeto Prioritário de Interesse Nacional (PPI Saúde Digital), coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Por meio dele, empresas podem direcionar parte do imposto devido para financiar projetos de P&D voltados a IA, interoperabilidade, dispositivos vestíveis e outras tecnologias emergentes, acelerando o caminho entre descoberta científica e aplicação prática.
“Esse movimento se fortalece à medida que universidades, start-ups deeptech e hospitais começam a atuar de forma integrada no desenvolvimento de biowearables, biossensores e plataformas inteligentes”, explica Henrique Miguel, secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital.
Para estimular essa colaboração, o MCTI realizou recentemente uma chamada pública dentro do PPI-Saúde Digital, selecionando redes de pesquisa que formam um ecossistema robusto e descentralizado de inovação.
Entre elas estão a CareNet.AI, focada em cuidado inteligente; a REDI-SUS, dedicada a diagnóstico e acompanhamento remoto; a ReNTAI, voltada à telessaúde avançada; a plataforma mareIA, para telemonitoramento preditivo; a INTEROPCHAIN, que explora blockchain para consentimento e interoperabilidade; e a Rede SOFIA, concentrada em soluções para saúde materno-infantil.
“Outro pilar dessa estratégia é a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), que há 20 anos estimula a integração entre profissionais da saúde para conduzir projetos colaborativos em pesquisa, inovação, gestão, educação e assistência em saúde digital”, destaca Cristina Akemi Shimoda, coordenadora-geral de Transformação Digital.
Cuidado conectado: a estratégia das instituições de saúde
Com a aposta no cuidado contínuo se consolidando como uma das principais estratégias da inovação em saúde no Brasil, o InovaHC tem buscado transformar esse conceito em prática. No hub de inovação do Hospital das Clínicas, diversas start-ups já desenvolvem wearables, sensores e tecnologias de monitoramento remoto voltadas ao acompanhamento de pacientes crônicos.
“Essas soluções estão sendo incorporadas ao projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação conduzido em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que prioriza a adoção de modelos de telemonitoramento e dispositivos aplicados à saúde digital”, detalha Giovanni Cerri, presidente dos Conselhos dos Institutos de Radiologia (InRad) e de Inovação (InovaHC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Obrigado por comentar!