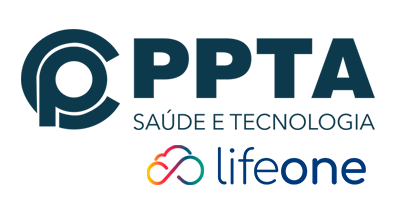Saúde à moda americana
06/02/2018
Ao contrário de seus pares do restante do mundo desenvolvido, as empresas americanas são responsáveis por cobrir custos de seguro-saúde de dois terços da população do país. Mesmo se os gastos com seguro-saúde do país não correspondessem ao dobro da maioria dos demais países do mundo rico, com resultados muito piores, essa seria uma desvantagem competitiva em um mercado mundial no qual concorrentes não têm de arcar com esse ônus.
É empolgante, portanto, o fato de três expoentes do mundo dos negócios americano - Warren Buffett, Jeff Bezos e Jamie Dimon - estarem assumindo essa questão ao lançar uma organização, apoiada pela capitalização de mercado somada, de US$ 1,62 trilhão, de suas companhias, voltada para prestar "assistência médica simplificada, de alta qualidade e transparente a um custo razoável".
Mas qual é a parte do nó-górdio da assistência médica americana que eles conseguirão desatar, que diferença isso vai fazer, e para quem? Os EUA têm um sistema de assistência médica totalmente opaco (o que é surpreendente, mas verdadeiro: nos comprometemos a pagar por serviços antes de conhecer seu custo), ineficiente (os mercados são hiperlocais e de relativamente baixa tecnologia) e bifurcado - os ricos e os pobres têm níveis radicalmente diferentes de assistência e de resultados.
Juntos, esses três problemas têm um impacto sobre a produtividade e o crescimento, para não falar da volatilidade econômica para pessoas comuns. As emergências de saúde e os custos daí resultantes são o principal motivo da falência pessoal nos EUA.
A elevação dos preços permite concluir que os benefícios de saúde correspondem atualmente a cerca de 20% da remuneração total do trabalhador (em relação aos 7% da década de 1950), o que os caracteriza como um fator que contribui para a estagnação salarial. Esse é, por sua vez, o principal motivo para o crescimento da economia nos EUA não ser maior.
Conglomerados de empresas como a Healthcare Transformation Alliance, um grupo de 46 grandes empresas, já tentaram enfrentar a questão. Mas, pelo fato de os EUA não terem um mercado de assistência médica nacional único, os contratos e as deduções têm de ser negociados com empresas de seguros, hospitais e provedores individuais.
Embora os políticos, entre os quais o presidente Donald Trump, argumentem que vender seguros de forma interestadual poderia resolver esses problemas, a verdade é que a assistência médica nos EUA é um negócio muito local. A capacidade de alavancar economias de escala depende do número de funcionários que se consegue registrar junto a um determinado provedor. Esse é um paradigma mais adequado a um modelo antigo de empregos para toda a vida do que à economia do "trabalho temporário" do século 21. O triunvirato Buffett, Bezos e Dimon pode conseguir baixar os custos para os seus próprios funcionários - a possibilidade de eles serem capazes de fazer isso para outros sem mudanças estruturais no setor de assistência médica é duvidosa.
O triunvirato poderia colher melhores resultados se investisse em métodos mais inovadores de prestar assistência. A assistência médica é um dos setores menos digitalizados dos EUA, de acordo com o McKinsey Global Institute, o que o torna alvo óbvio para uma empresa como a Amazon (embora ela tenha de ser muito cuidadosa para proteger dados dos pacientes e não usá-los para outras finalidades comerciais). Também há alvos imediatos no desenvolvimento de pagamentos "empacotados", no qual um conjunto de serviços é oferecido por um preço fixo.
Tendo dado à luz dois filhos no hospital do National Health Service do Reino Unido, sempre me surpreendi diante do fato de que poderia ter todas as minhas necessidades - desde check-ups básicos até visitas a especialistas - atendidas rápida e eficientemente no mesmo lugar. Todos os provedores tinham acesso a todas as minhas informações médicas por via digital. O fato de isso ainda não acontecer nos EUA revela o quanto o país tem de avançar.
Mas o maior desafio no sistema de assistência médica americano não é de ordem técnica, e sim existencial. Os americanos têm um senso de terem direito a muitas coisas e a assistência médica encabeça a lista. A maior parte dos países ricos resolveu, há décadas, que faz sentido, tanto econômica quanto política e moralmente, fornecer um nível básico de assistência a todos os cidadãos, em vez de oferecer a todos a "opção" de ter os tratamentos médicos mais de ponta, seja qual for o custo.
Mas os americanos ainda são muito apegados ao mito de que a "escolha" é o que torna o sistema justo. Não importa que cada vez menos pessoas tenham qualquer tipo de escolha - especialmente agora que a ordem individual de cumprimento obrigatório do Obamacare, que exigiu que todos tivessem alguma forma de cobertura médica, foi revogada por Trump. O Medicare, a versão americana do National Health Service para os mais velhos, constitui uma rede de segurança básica, mas também subsidia uma série de tratamentos onerosos e questionáveis, um dinheiro que poderia ser mais bem-gasto na oferta de mais serviços básicos a mais pessoas. Recusamo-nos a discutir verdadeiramente o fato de que uma assistência no fim da vida que drena recursos constitua a maior parcela dos gastos médicos.
Em resumo, priorizamos o individual sobre o coletivo, tanto na assistência médica quanto na maior parte das áreas da nossa sociedade.
Esse é o modo americano. Mas não é mais sustentável. Buffett tem razão ao dizer que os custos com assistência médica são um "verme faminto" que corrói nosso crescimento econômico e nossa prosperidade. A melhor maneira de corrigir a situação seria fazer o que todas as outras economias avançadas fizeram e adotar um sistema nacionalizado. Mas, em vez dessa solução (até agora) politicamente inviável, fico satisfeita de que algumas das pessoas mais inteligentes do país estejam agitando em favor de mudança. (Tradução de Rachel Warszawski).
Rana Foroohar é colunista de negócios mundiais e editora associada do Financial Times em Nova York
É empolgante, portanto, o fato de três expoentes do mundo dos negócios americano - Warren Buffett, Jeff Bezos e Jamie Dimon - estarem assumindo essa questão ao lançar uma organização, apoiada pela capitalização de mercado somada, de US$ 1,62 trilhão, de suas companhias, voltada para prestar "assistência médica simplificada, de alta qualidade e transparente a um custo razoável".
Mas qual é a parte do nó-górdio da assistência médica americana que eles conseguirão desatar, que diferença isso vai fazer, e para quem? Os EUA têm um sistema de assistência médica totalmente opaco (o que é surpreendente, mas verdadeiro: nos comprometemos a pagar por serviços antes de conhecer seu custo), ineficiente (os mercados são hiperlocais e de relativamente baixa tecnologia) e bifurcado - os ricos e os pobres têm níveis radicalmente diferentes de assistência e de resultados.
Juntos, esses três problemas têm um impacto sobre a produtividade e o crescimento, para não falar da volatilidade econômica para pessoas comuns. As emergências de saúde e os custos daí resultantes são o principal motivo da falência pessoal nos EUA.
A elevação dos preços permite concluir que os benefícios de saúde correspondem atualmente a cerca de 20% da remuneração total do trabalhador (em relação aos 7% da década de 1950), o que os caracteriza como um fator que contribui para a estagnação salarial. Esse é, por sua vez, o principal motivo para o crescimento da economia nos EUA não ser maior.
Conglomerados de empresas como a Healthcare Transformation Alliance, um grupo de 46 grandes empresas, já tentaram enfrentar a questão. Mas, pelo fato de os EUA não terem um mercado de assistência médica nacional único, os contratos e as deduções têm de ser negociados com empresas de seguros, hospitais e provedores individuais.
Embora os políticos, entre os quais o presidente Donald Trump, argumentem que vender seguros de forma interestadual poderia resolver esses problemas, a verdade é que a assistência médica nos EUA é um negócio muito local. A capacidade de alavancar economias de escala depende do número de funcionários que se consegue registrar junto a um determinado provedor. Esse é um paradigma mais adequado a um modelo antigo de empregos para toda a vida do que à economia do "trabalho temporário" do século 21. O triunvirato Buffett, Bezos e Dimon pode conseguir baixar os custos para os seus próprios funcionários - a possibilidade de eles serem capazes de fazer isso para outros sem mudanças estruturais no setor de assistência médica é duvidosa.
O triunvirato poderia colher melhores resultados se investisse em métodos mais inovadores de prestar assistência. A assistência médica é um dos setores menos digitalizados dos EUA, de acordo com o McKinsey Global Institute, o que o torna alvo óbvio para uma empresa como a Amazon (embora ela tenha de ser muito cuidadosa para proteger dados dos pacientes e não usá-los para outras finalidades comerciais). Também há alvos imediatos no desenvolvimento de pagamentos "empacotados", no qual um conjunto de serviços é oferecido por um preço fixo.
Tendo dado à luz dois filhos no hospital do National Health Service do Reino Unido, sempre me surpreendi diante do fato de que poderia ter todas as minhas necessidades - desde check-ups básicos até visitas a especialistas - atendidas rápida e eficientemente no mesmo lugar. Todos os provedores tinham acesso a todas as minhas informações médicas por via digital. O fato de isso ainda não acontecer nos EUA revela o quanto o país tem de avançar.
Mas o maior desafio no sistema de assistência médica americano não é de ordem técnica, e sim existencial. Os americanos têm um senso de terem direito a muitas coisas e a assistência médica encabeça a lista. A maior parte dos países ricos resolveu, há décadas, que faz sentido, tanto econômica quanto política e moralmente, fornecer um nível básico de assistência a todos os cidadãos, em vez de oferecer a todos a "opção" de ter os tratamentos médicos mais de ponta, seja qual for o custo.
Mas os americanos ainda são muito apegados ao mito de que a "escolha" é o que torna o sistema justo. Não importa que cada vez menos pessoas tenham qualquer tipo de escolha - especialmente agora que a ordem individual de cumprimento obrigatório do Obamacare, que exigiu que todos tivessem alguma forma de cobertura médica, foi revogada por Trump. O Medicare, a versão americana do National Health Service para os mais velhos, constitui uma rede de segurança básica, mas também subsidia uma série de tratamentos onerosos e questionáveis, um dinheiro que poderia ser mais bem-gasto na oferta de mais serviços básicos a mais pessoas. Recusamo-nos a discutir verdadeiramente o fato de que uma assistência no fim da vida que drena recursos constitua a maior parcela dos gastos médicos.
Em resumo, priorizamos o individual sobre o coletivo, tanto na assistência médica quanto na maior parte das áreas da nossa sociedade.
Esse é o modo americano. Mas não é mais sustentável. Buffett tem razão ao dizer que os custos com assistência médica são um "verme faminto" que corrói nosso crescimento econômico e nossa prosperidade. A melhor maneira de corrigir a situação seria fazer o que todas as outras economias avançadas fizeram e adotar um sistema nacionalizado. Mas, em vez dessa solução (até agora) politicamente inviável, fico satisfeita de que algumas das pessoas mais inteligentes do país estejam agitando em favor de mudança. (Tradução de Rachel Warszawski).
Rana Foroohar é colunista de negócios mundiais e editora associada do Financial Times em Nova York
Fonte: Valor
Obrigado por comentar!
Erro!