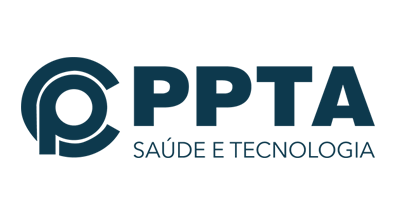Disputas ameaçam sustentabilidade do setor de saúde no Brasil
04/10/2018
Há cerca de dois anos, uma denúncia anônima levou o promotor de Justiça Fernando Rodrigues Martins, do Ministério Público de Minas Gerais, a dar início a uma investigação contra seis hospitais particulares de Uberlândia. A acusação era que as instituições estavam fazendo cobranças abusivas e registrando lucros expressivos em medicamentos utilizados pelos pacientes internados.
Desde 2009, uma resolução da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos (CMED), ligada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a obtenção de lucro com remédios utilizados em procedimentos dentro de hospitais, clínicas e laboratórios. “Quando o paciente está internado, ele ou a família não têm como pesquisar ou negociar preços. Acabam aceitando o que vem na conta do hospital”, diz o promotor Martins. Os hospitais de Uberlândia já foram condenados ao pagamento de multas num processo administrativo em 2017, mas uma ação civil pública ainda corre na Justiça.
O que aconteceu com esses hospitais é apenas um dos muitos capítulos na disputa que se armou no setor de saúde no Brasil. Hospitais, planos de saúde e consumidores se acusam mutuamente de um querer tirar proveito do outro, comprometendo a sustentabilidade do setor no longo prazo. Essas divergências foram tratadas no EXAME Fórum Saúde, realizado em São Paulo no dia 12 de setembro. “Professores de farmacologia viraram propagandistas de laboratórios farmacêuticos e médicos incorporaram tecnologias que não necessariamente agregam valor ao tratamento”, disse o médico Claudio Lottenberg, presidente do grupo United Health Brasil.
Não é de hoje que a conta fica cada vez mais difícil de fechar. Boa parte da receita dos 4.400 hospitais privados do país é gerada com a cobrança de medicamentos e insumos. “Hoje, de 50% a 60% das receitas dos hospitais vêm da venda desses produtos aos pacientes, e não da prestação de serviços”, afirma Gonzalo Vecina Neto, professor na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Anvisa, presente no EXAME Fórum. Mas um levantamento da Qualirede, empresa catarinense que atua na gestão de planos de saúde, aponta que os remédios representam apenas 15% das despesas das instituições privadas. “Os hospitais acabam compensando os altos custos com a hospedagem do paciente cobrando preços absurdos em medicamentos e insumos”, diz Irene Hahn, presidente da Qualirede.
Uma dose injetável de 100 miligramas de Oxaliplatina, um remédio para o tratamento de câncer de cólon, é adquirida dos distribuidores por cerca de 80 reais pelos hospitais. A cobrança para pacientes e operadoras de saúde chega a 2.100 reais, uma sobrevalorização de 2 600%. Uma caixa com 30 comprimidos de 25 miligramas de Captopril, remédio para hipertensão fabricado pelo laboratório nacional Teuto, custa 1,59 para os hospitais, mas chega a 11,45 reais na conta do paciente, uma alta de 719%. No site da rede DrogaRaia, o mesmo remédio era vendido a 1,33 real no dia 24 de setembro. Os hospitais se defendem dizendo que a resolução da CMED de 2009 era dúbia e gerava diferentes interpretações. “O que a norma regulamentava era o preço na ponta, mas não o valor de aquisição dos hospitais”, diz Martha Oliveira, diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados. Em abril, uma nova regra foi lançada pela CMED, em substituição à antiga, determinando explicitamente a “margem zero” de lucro para os remédios administrados pelos hospitais, com aplicação de multas que podem custar caro ao orçamento das instituições. “Os hospitais precisam discriminar todos os custos de forma clara e transparente nas faturas de internação. E não jogar a diferença em cima dos medicamentos”, diz Leandro Safatle, secretário executivo da CMED. “Isso permitirá que os beneficiários tenham informações precisas de para onde seu dinheiro está indo e com qual finalidade.” O Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão ligado ao Ministério da Saúde, passou a acompanhar a aplicação da nova regra e as tensões que estão sendo geradas. Em setembro, o Ministério Público Federal solicitou que a CMED e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a reguladora dos planos de saúde, fiscalizem e punam os hospitais, as clínicas e os laboratórios que não seguirem a nova resolução. Os hospitais querem mais tempo para a aplicação da regra, alegando que os contratos com os fornecedores precisam ser revisados. “Controlar preços de medicamentos é um parâmetro utilizado nos países mais desenvolvidos do mundo”, afirma Ronald Ferreira dos Santos, presidente do CNS. Os Estados Unidos, a China e diversos países da Europa mantêm órgãos de saúde que precificam e supervisionam o mercado de medicamentos.
Os embates tanto na saúde privada quanto na pública são resultados de uma escalada recente nos custos. Com o envelhecimento da população e com a incorporação acelerada de novas tecnologias no tratamento de doenças, a conta disparou para todos os elos da cadeia. No Brasil, a variação do custo médico-hospitalar, que ganhou o apelido de inflação médica, chegou a 17% em 2017 — quase seis vezes o registrado pelo índice de preços ao consumidor, o IPCA, que fechou em 3% no ano. “Todo o sistema de saúde no Brasil encaminha o paciente ao atendimento hospitalar. A maior causa de entrada nos hospitais brasileiros é resfriado. A segunda é dor nas costas”, diz Lottenberg. Ou seja, gasta-se muito com doenças de baixíssima complexidade.
Outra parte do problema está no modelo de remuneração adotado no Brasil. Por aqui, impera o chamado fee for service, ou “valor por serviço”, que não é nada além de listar todos os insumos e serviços usados num tratamento e mandar a fatura ao cliente ou à operadora de saúde. Isso vai desde o trabalho de um cirurgião até a seringa usada em um procedimento médico. “Hoje temos um sistema perverso de remuneração que premia o tratamento da doença, o tempo de internação e o exame desnecessário”, diz Sidney Klajner, presidente do Hospital Albert Einstein. “Isso leva ao desperdício, que pode estar no comportamento do paciente, do médico, das equipes que fazem assistência clínica. Há desperdício até na parte administrativa, como o trabalho exagerado de auditorias.” O que vem sendo discutido agora é a adoção de novos modelos com foco no desempenho. A remuneração passaria, então, a ser calculada sobre o menor custo associado à qualidade do atendimento. Quanto melhor for o resultado para o paciente com o menor gasto, maior é o pagamento pelo serviço. Há variações desse modelo em que indicadores de qualidade do hospital, como menores taxas de infecção hospitalar e de mortalidade, também são recompensados.
Outro problema igualmente complexo envolve os contratos de planos de saúde no formato de coparticipação ou franquia. Essas duas modalidades cresceram de forma acelerada nos últimos anos com a crise econômica, que fez com que 3 milhões de pessoas não tivessem mais acesso a um plano de assistência. De acordo com a ANS, dos 40 milhões de contratos ativos de planos de saúde no Brasil, 52% são de coparticipação ou franquia. Há dez anos, eram 22%. Nos dois modelos de contrato, o consumidor tem gastos adicionais à medida que usa os serviços de consultas, exames ou tratamentos. “Com o avanço da coparticipação e da franquia, haverá maior transparência nas informações e isso fará com que o usuário tenha mais consciência de suas escolhas no uso do plano”, diz Eliane Kihara, líder da área de saúde da consultoria PwC.
Na franquia, as operadoras estipulam um valor mínimo para a cobertura, e os gastos que ultrapassam o piso determinado no contrato são cobertos pelo plano. Abaixo disso, a conta é do usuário. Esse formato de plano ainda cresce em ritmo tímido ante o crescimento da coparticipação — modalidade em que o beneficiá-rio paga um valor mais em conta por mês, mas deve bancar uma taxa cada vez que usufruir do plano. “Há um semiestado de falência na saúde privada que fez com que ficasse cada vez mais difícil para as empresas bancar um plano para os funcionários. A coparticipação foi a alternativa encontrada”, diz Henrique Lian, diretor da Proteste, organização europeia que atua no direito dos consumidores. No final de junho, a ANS fixou em até 40% o limite de cobrança para os usuários de planos de coparticipação, ao mesmo tempo que criou uma lista de 250 procedimentos isentos. A resolução da agência reguladora foi alvo de críticas de todos os lados — principalmente de entidades de defesa do consumidor, prevendo que os gastos dos usuários poderiam disparar e os planos sem coparticipação acabariam por desaparecer do mercado (assim como ocorreu com os planos individuais, em favor dos coletivos). Após um pedido de liminar da Ordem dos Advogados do Brasil, em julho o Supremo Tribunal Federal suspendeu a regra por tempo indeterminado.
A falta de entendimento entre hospitais, operadoras e consumidores está criando uma conta que aumenta ano após ano. Diante dos impasses, os beneficiários apelam para a Justiça nos conflitos. Dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça mostram que, em 2016, pelo menos 1,3 milhão de processos na área de saúde passaram pelas instâncias do Judiciário. Só no ano passado o custo da judicialização para o governo federal chegou a 8 bilhões de reais, o equivalente a quase 7% de todo o orçamento do Ministério da Saúde.
Outro 1,2 bilhão de reais em tratamentos autorizados judicialmente sobrou para o setor privado. Entre tantas discordâncias, há um diagnóstico que é unânime: só uma maior transparência no setor poderá trazer maior equilíbrio no longo prazo. “Os sistemas de saúde do Brasil, tanto o público quanto o privado, têm dados de boa qualidade sobre seu funcionamento, mas eles são confusos e pouco transparentes”, afirma Edgar Rizzatti, diretor executivo médico do Grupo Fleury, que atua na área de diagnósticos. Tecnologias como o prontuário eletrônico dos pacientes e a interação de bancos de dados das redes pública e privada ajudariam a dar mais eficiência ao sistema. Mas a sensação de quem está no setor hoje é de que o buraco é bem mais embaixo. “No fundo, todos nós sabemos o que tem de ser feito. Mas falta coragem para dar o passo inicial, mesmo que num primeiro momento isso traga uma redução dos lucros”, disse Klajner, do Hospital Albert Einstein, durante o EXAME Fórum Saúde.
Uma das medidas adotadas no Einstein foi a implementação de uma segunda opinião para decidir sobre indicações de cirurgias que usam itens caros, como órteses e próteses. Com a iniciativa, 61% das indicações de cirurgia foram rejeitadas na segunda opinião. Ou seja, o hospital perdeu receitas — e isso precisa ser aceito, segundo Klajner. “Uma pesquisa com os pacientes mostrou mais de 90% de satisfação tanto dos que fizeram a cirurgia quanto dos que não foram submetidos ao procedimento”, diz. No final das contas, a receita para a longevidade do setor é a mesma que para os pacientes. Sem equilíbrio, é difícil para todos sobreviver.
Desde 2009, uma resolução da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos (CMED), ligada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a obtenção de lucro com remédios utilizados em procedimentos dentro de hospitais, clínicas e laboratórios. “Quando o paciente está internado, ele ou a família não têm como pesquisar ou negociar preços. Acabam aceitando o que vem na conta do hospital”, diz o promotor Martins. Os hospitais de Uberlândia já foram condenados ao pagamento de multas num processo administrativo em 2017, mas uma ação civil pública ainda corre na Justiça.
O que aconteceu com esses hospitais é apenas um dos muitos capítulos na disputa que se armou no setor de saúde no Brasil. Hospitais, planos de saúde e consumidores se acusam mutuamente de um querer tirar proveito do outro, comprometendo a sustentabilidade do setor no longo prazo. Essas divergências foram tratadas no EXAME Fórum Saúde, realizado em São Paulo no dia 12 de setembro. “Professores de farmacologia viraram propagandistas de laboratórios farmacêuticos e médicos incorporaram tecnologias que não necessariamente agregam valor ao tratamento”, disse o médico Claudio Lottenberg, presidente do grupo United Health Brasil.
Não é de hoje que a conta fica cada vez mais difícil de fechar. Boa parte da receita dos 4.400 hospitais privados do país é gerada com a cobrança de medicamentos e insumos. “Hoje, de 50% a 60% das receitas dos hospitais vêm da venda desses produtos aos pacientes, e não da prestação de serviços”, afirma Gonzalo Vecina Neto, professor na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e ex-presidente da Anvisa, presente no EXAME Fórum. Mas um levantamento da Qualirede, empresa catarinense que atua na gestão de planos de saúde, aponta que os remédios representam apenas 15% das despesas das instituições privadas. “Os hospitais acabam compensando os altos custos com a hospedagem do paciente cobrando preços absurdos em medicamentos e insumos”, diz Irene Hahn, presidente da Qualirede.
Uma dose injetável de 100 miligramas de Oxaliplatina, um remédio para o tratamento de câncer de cólon, é adquirida dos distribuidores por cerca de 80 reais pelos hospitais. A cobrança para pacientes e operadoras de saúde chega a 2.100 reais, uma sobrevalorização de 2 600%. Uma caixa com 30 comprimidos de 25 miligramas de Captopril, remédio para hipertensão fabricado pelo laboratório nacional Teuto, custa 1,59 para os hospitais, mas chega a 11,45 reais na conta do paciente, uma alta de 719%. No site da rede DrogaRaia, o mesmo remédio era vendido a 1,33 real no dia 24 de setembro. Os hospitais se defendem dizendo que a resolução da CMED de 2009 era dúbia e gerava diferentes interpretações. “O que a norma regulamentava era o preço na ponta, mas não o valor de aquisição dos hospitais”, diz Martha Oliveira, diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados. Em abril, uma nova regra foi lançada pela CMED, em substituição à antiga, determinando explicitamente a “margem zero” de lucro para os remédios administrados pelos hospitais, com aplicação de multas que podem custar caro ao orçamento das instituições. “Os hospitais precisam discriminar todos os custos de forma clara e transparente nas faturas de internação. E não jogar a diferença em cima dos medicamentos”, diz Leandro Safatle, secretário executivo da CMED. “Isso permitirá que os beneficiários tenham informações precisas de para onde seu dinheiro está indo e com qual finalidade.” O Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão ligado ao Ministério da Saúde, passou a acompanhar a aplicação da nova regra e as tensões que estão sendo geradas. Em setembro, o Ministério Público Federal solicitou que a CMED e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a reguladora dos planos de saúde, fiscalizem e punam os hospitais, as clínicas e os laboratórios que não seguirem a nova resolução. Os hospitais querem mais tempo para a aplicação da regra, alegando que os contratos com os fornecedores precisam ser revisados. “Controlar preços de medicamentos é um parâmetro utilizado nos países mais desenvolvidos do mundo”, afirma Ronald Ferreira dos Santos, presidente do CNS. Os Estados Unidos, a China e diversos países da Europa mantêm órgãos de saúde que precificam e supervisionam o mercado de medicamentos.
Os embates tanto na saúde privada quanto na pública são resultados de uma escalada recente nos custos. Com o envelhecimento da população e com a incorporação acelerada de novas tecnologias no tratamento de doenças, a conta disparou para todos os elos da cadeia. No Brasil, a variação do custo médico-hospitalar, que ganhou o apelido de inflação médica, chegou a 17% em 2017 — quase seis vezes o registrado pelo índice de preços ao consumidor, o IPCA, que fechou em 3% no ano. “Todo o sistema de saúde no Brasil encaminha o paciente ao atendimento hospitalar. A maior causa de entrada nos hospitais brasileiros é resfriado. A segunda é dor nas costas”, diz Lottenberg. Ou seja, gasta-se muito com doenças de baixíssima complexidade.
Outra parte do problema está no modelo de remuneração adotado no Brasil. Por aqui, impera o chamado fee for service, ou “valor por serviço”, que não é nada além de listar todos os insumos e serviços usados num tratamento e mandar a fatura ao cliente ou à operadora de saúde. Isso vai desde o trabalho de um cirurgião até a seringa usada em um procedimento médico. “Hoje temos um sistema perverso de remuneração que premia o tratamento da doença, o tempo de internação e o exame desnecessário”, diz Sidney Klajner, presidente do Hospital Albert Einstein. “Isso leva ao desperdício, que pode estar no comportamento do paciente, do médico, das equipes que fazem assistência clínica. Há desperdício até na parte administrativa, como o trabalho exagerado de auditorias.” O que vem sendo discutido agora é a adoção de novos modelos com foco no desempenho. A remuneração passaria, então, a ser calculada sobre o menor custo associado à qualidade do atendimento. Quanto melhor for o resultado para o paciente com o menor gasto, maior é o pagamento pelo serviço. Há variações desse modelo em que indicadores de qualidade do hospital, como menores taxas de infecção hospitalar e de mortalidade, também são recompensados.
Outro problema igualmente complexo envolve os contratos de planos de saúde no formato de coparticipação ou franquia. Essas duas modalidades cresceram de forma acelerada nos últimos anos com a crise econômica, que fez com que 3 milhões de pessoas não tivessem mais acesso a um plano de assistência. De acordo com a ANS, dos 40 milhões de contratos ativos de planos de saúde no Brasil, 52% são de coparticipação ou franquia. Há dez anos, eram 22%. Nos dois modelos de contrato, o consumidor tem gastos adicionais à medida que usa os serviços de consultas, exames ou tratamentos. “Com o avanço da coparticipação e da franquia, haverá maior transparência nas informações e isso fará com que o usuário tenha mais consciência de suas escolhas no uso do plano”, diz Eliane Kihara, líder da área de saúde da consultoria PwC.
Na franquia, as operadoras estipulam um valor mínimo para a cobertura, e os gastos que ultrapassam o piso determinado no contrato são cobertos pelo plano. Abaixo disso, a conta é do usuário. Esse formato de plano ainda cresce em ritmo tímido ante o crescimento da coparticipação — modalidade em que o beneficiá-rio paga um valor mais em conta por mês, mas deve bancar uma taxa cada vez que usufruir do plano. “Há um semiestado de falência na saúde privada que fez com que ficasse cada vez mais difícil para as empresas bancar um plano para os funcionários. A coparticipação foi a alternativa encontrada”, diz Henrique Lian, diretor da Proteste, organização europeia que atua no direito dos consumidores. No final de junho, a ANS fixou em até 40% o limite de cobrança para os usuários de planos de coparticipação, ao mesmo tempo que criou uma lista de 250 procedimentos isentos. A resolução da agência reguladora foi alvo de críticas de todos os lados — principalmente de entidades de defesa do consumidor, prevendo que os gastos dos usuários poderiam disparar e os planos sem coparticipação acabariam por desaparecer do mercado (assim como ocorreu com os planos individuais, em favor dos coletivos). Após um pedido de liminar da Ordem dos Advogados do Brasil, em julho o Supremo Tribunal Federal suspendeu a regra por tempo indeterminado.
A falta de entendimento entre hospitais, operadoras e consumidores está criando uma conta que aumenta ano após ano. Diante dos impasses, os beneficiários apelam para a Justiça nos conflitos. Dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça mostram que, em 2016, pelo menos 1,3 milhão de processos na área de saúde passaram pelas instâncias do Judiciário. Só no ano passado o custo da judicialização para o governo federal chegou a 8 bilhões de reais, o equivalente a quase 7% de todo o orçamento do Ministério da Saúde.
Outro 1,2 bilhão de reais em tratamentos autorizados judicialmente sobrou para o setor privado. Entre tantas discordâncias, há um diagnóstico que é unânime: só uma maior transparência no setor poderá trazer maior equilíbrio no longo prazo. “Os sistemas de saúde do Brasil, tanto o público quanto o privado, têm dados de boa qualidade sobre seu funcionamento, mas eles são confusos e pouco transparentes”, afirma Edgar Rizzatti, diretor executivo médico do Grupo Fleury, que atua na área de diagnósticos. Tecnologias como o prontuário eletrônico dos pacientes e a interação de bancos de dados das redes pública e privada ajudariam a dar mais eficiência ao sistema. Mas a sensação de quem está no setor hoje é de que o buraco é bem mais embaixo. “No fundo, todos nós sabemos o que tem de ser feito. Mas falta coragem para dar o passo inicial, mesmo que num primeiro momento isso traga uma redução dos lucros”, disse Klajner, do Hospital Albert Einstein, durante o EXAME Fórum Saúde.
Uma das medidas adotadas no Einstein foi a implementação de uma segunda opinião para decidir sobre indicações de cirurgias que usam itens caros, como órteses e próteses. Com a iniciativa, 61% das indicações de cirurgia foram rejeitadas na segunda opinião. Ou seja, o hospital perdeu receitas — e isso precisa ser aceito, segundo Klajner. “Uma pesquisa com os pacientes mostrou mais de 90% de satisfação tanto dos que fizeram a cirurgia quanto dos que não foram submetidos ao procedimento”, diz. No final das contas, a receita para a longevidade do setor é a mesma que para os pacientes. Sem equilíbrio, é difícil para todos sobreviver.
Fonte: Exame
Obrigado por comentar!
Erro!