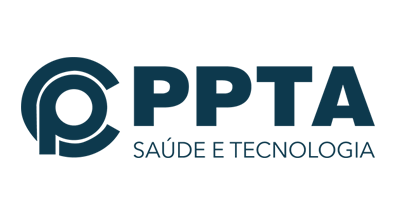A saúde bate à sua porta, o sucesso de um programa que atende 130 milhões de pessoas
24/09/2019
Dona Francisca mora na rua das Jabuticabeiras, Jardim ABC, Diadema (SP). Com diabetes e hipertensão, aos 87 anos já se locomove com dificuldade, passa boa parte do dia na cama, mas gosta de saber antes quando Denise vai passar. Quer estar bonita e garantir que vai ter um café para oferecer. Denise chama no portão, e logo o filho de dona Francisca chega e lhe diz para “ir entrando” porque a mãe está no quarto. Caderno à mão, Denise pergunta como dona Francisca está depois da “aplicação” que fez no ombro, onde sente muita dor. Ouve atentamente, anota tudo, responde às perguntas e dá instruções. Rotina semelhante se repete uma ou duas vezes por mês há 11 anos e seis meses, desde que Denise dos Santos Neris começou a trabalhar como agente comunitária de saúde da Prefeitura de Diadema no Jardim ABC, bairro onde também mora.
Denise é um dos cerca de 264 mil agentes que integram as 43 mil equipes de Saúde da Família espalhadas em 5.465 municípios brasileiros. Em 1998, eram apenas 2 mil equipes atendendo cerca de 7 milhões de pessoas. Hoje estima-se que 130 milhões de brasileiros são acompanhados por esses grupos de profissionais, que formam o núcleo da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Mais fortes no interior e nas pequenas e médias cidades, o trabalho preventivo e a expansão dessas equipes muitas vezes são ofuscados pela crise dos hospitais e das filas para consultas e exames nos grandes centros.
Em 1990, antes das primeiras equipes de Saúde da Família serem formadas, 53 crianças a cada 1.000 nascidas vivas morriam com menos de um ano. Essa taxa caiu continuamente ao longo de quase 30 anos e chegou em 12,4 a cada 1.000 nascidos vivos em 2015, tendo oscilado entre pequenas altas e baixas desde então. Também o número de mães que morrem a cada 100 mil crianças que nascem recuou de 104 para 44 entre 1990 e 2015, segundo dados compilados em um extenso estudo sobre o SUS publicado na revista “The Lancet”, uma das mais prestigiadas publicações médicas do mundo, assinado por 15 pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
O estudo chama atenção para o sucesso da estratégia de saúde da família como modelo de atenção primária, faz uma firme defesa do SUS sem deixar de apontar seus problemas e alerta para o risco de que a política fiscal implementada em 2016 e mantida pelo atual governo, com a regra do teto de gastos, comprometa os bons resultados obtidos nos últimos 30 anos e provoque um retrocesso no processo que ainda está em curso de melhoria nas condições de saúde da população, especialmente a parcela mais pobre.
O estudo trabalhou com quatro cenários de financiamento até 2030. No cenário que segue a regra do teto de gastos, de recursos mantidos em valor constante, mas sem reajuste além da inflação ou pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), haveria um crescimento da mortalidade infantil e de doenças cardiovasculares (entre outras pioras de indicadores de saúde), com maior deterioração nos pequenos municípios, onde o peso das transferências federais é maior do que nas grandes cidades.
O Ministério da Saúde prepara uma grande mudança no financiamento das equipes de Saúde da Família já a partir de 2020, mas o secretário de Atenção Básica, Erno Harzheim, informa que a ideia não é reduzir, mas aumentar gradativamente o volume de recursos destinados à atenção básica. População efetivamente atendida e qualidade passarão a ser a base da remuneração. Em 2019, 16,6% do orçamento federal para saúde foi destinado à atenção básica e, no modelo desenhado pelo novo governo, essa parcela vai aumentar para 20,5% até 2022. Isoladamente, contudo, cada equipe poderá receber mais ou menos em relação ao que recebe hoje, dependendo de um sistema de avaliação de resultados que será implantado no próximo ano. (veja entrevista em Mudança vai aumentar verba, diz secretário)
Antes de 1998 o Brasil não possuía nenhuma rede de atenção à saúde para as pessoas pobres e que não tinham um emprego formal, lembra Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas (CPP) do Insper e um dos autores do estudo publicado no “The Lancet”. Para ele, o papel do Bolsa Família é muito valorizado, com toda razão, mas o SUS e especialmente o Saúde da Família são muito pouco discutidos, embora tenham sido fundamentais na redução da mortalidade infantil e no controle das doenças cardiovasculares, entre outros indicadores de saúde. “Milhões de famílias não tinham informação sobre coisas básicas de saúde, tinham só a TV, e passam a receber essas orientações e a fazer coisas básicas que nós sabemos que funcionam, como lavar as mãos e medir a pressão dos mais velhos”, diz Menezes Filho.
Por regra, as 43 mil equipes de Saúde da Família espalhadas pelo Brasil são compostas por pelo menos cinco agentes comunitários, dois técnicos de enfermagem, um enfermeiro e um médico. “Antes da formação das equipes, tínhamos a hegemonia dos hospitais e o atendimento focado no contribuinte da Previdência. Com carteira de trabalho, você tinha assistência médica. Sem ela, nada. O máximo que havia eram portinhas, pequenos postos de saúde com um pediatra e um ginecologista. Com o SUS, tudo muda. Você teve que construir o que não existia, e não bastava só transformar aquela portinha em casas grandes, precisava funcionar. E a inspiração vem do modelo de agentes de saúde que você tinha no Ceará e Pernambuco”, diz Luiz Claudio Sartori, secretário de Saúde de Diadema, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), com 25 anos de atuação no SUS.
O Programa de Agentes Comunitários da Saúde se transformou em Programa de Saúde da Família com a incorporação de médicos e enfermeiros na virada de 1993/1994, e foi posteriormente rebatizado de Estratégia Saúde da Família. E as equipes passaram a trabalhar com o conceito de território definido, onde cada equipe é responsável por cerca de mil famílias que vivem em uma dada região, rigidamente definida. “Você não tem mais de 20 a 30 pessoas trabalhando soltas em uma Unidade Básica de Saúde”, explica Douglas Schneider Filho, coordenador de Atenção Básica em Diadema. “Esse modelo permite à equipe mapear desigualdades, conhecer as famílias, dividir seus pacientes por risco, conhecer onde estão os diabéticos, os hipertensos, as mães com gravidez de risco”, diz Sartori. E é esse mapeamento que se transforma em uma das especificidades que faz toda diferença no programa, dizem os dois gestores de saúde. Em Diadema, todo o sistema de saúde está informatizado, não apenas as informações que precisam ser, por lei, remetidas para o Ministério da Saúde.
A Constituição de 1988 adotou a saúde gratuita como direito universal para todos os brasileiros. Com ela nasce o SUS, e desde o início foi estabelecida uma clara divisão de tarefas entre União, Estados e municípios, aos quais ficou destinada a execução da atenção básica. Desde a criação do SUS e especialmente após as regras que definiram um percentual fixo de receita para a área (15% para os municípios e 12% para os Estados), os gastos com saúde pública no Brasil cresceram e chegaram a 4,05% do PIB em 2017, segundo dados compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A participação de cada ente federativo, contudo, mudou muito, com redução da parcela federal e forte incremento da presença municipal - que passou de 22% em 2000 para 31% do total em 2017. A redução proporcional da União ocorreu, em parte, porque a fixação de um percentual mínimo dos seus gastos em saúde só veio em 2015 (previsão de 15% em 2020 com correção pelo PIB), mas essa regra foi alterada com a emenda do teto dos gastos que limita o crescimento à inflação do ano anterior. Essa regra, junto com a decisão do atual governo de fazer um forte ajuste fiscal, é uma grande preocupação dos gestores e pesquisadores na área, pelo retrocesso que pode provocar nas condições de vida da população. “Temos uma crise fiscal, mas é preciso resolvê-la de forma inteligente. Eu não cortaria em saúde. É um gasto que tem um impacto social enorme, está salvando vidas, você não pode restringir o acesso da população à saúde”, defende Menezes Filho.
Os grandes avanços no Saúde da Família passam a vir mais fortemente a partir de 1996/98, quando uma norma operacional básica (NOB) definiu que os recursos seriam repassados do Fundo Nacional de Saúde para fundos estaduais e municipais, estabeleceu contrapartidas dos gestores e, principalmente, alterou a lógica de cálculo dos recursos para os municípios. Eles deixaram de ter como base o número de procedimentos e passaram a ser calculados com base no número de habitantes. Estavam ali estabelecidas duas outras âncoras para o sucesso do programa: repasse condicionado a contrapartidas e ampliação do acesso (e não mais número de atendimentos) como base da remuneração.
O sistema de transferência de recursos foi montado com dois pisos de atenção básica, um fixo (valor per capita baseado na população da cidade, que hoje vai de R$ 23 a R$ 28) e um variável (diretamente relacionado à criação e manutenção de equipes de Saúde da Família, que vai de R$ 7,1 mil a R$ 10,7 mil). Para cada um desses valores existem condicionalidades bem específicas. A transferência do valor fixo, por exemplo, pode ser interrompida se o município não abastecer o sistema de informações do SUS, que registra desde vacinações até internações hospitalares. Além desses dois pisos, existe uma terceira remuneração definida pela qualidade, mas ela é por adesão. Das 43 mil equipes, 36 mil se submetem a essa avaliação feita de três em três anos, cuja classificação de ruim a ótimo define um adicional de pagamento. O governo transfere R$ 4,5 bilhões em PAB fixo, R$ 5 bilhões em variável e R$ 1,9 bilhão pela avaliação de qualidade.
Para a professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), Ligia Giovanella, uma das razões do sucesso da estratégia de Saúde da Família é “sua continuidade ao longo de décadas”, em diferentes governos. “Ela representa um novo modelo da atenção básica de saúde, que junta tanto o olhar para o indivíduo como para a população e o território onde ela vive”, pondera. Além da abordagem territorial, baseada nas equipes, e que difere do modelo tradicional de posto de saúde, diz Ligia, outra autora do estudo do “The Lancet”, o conjunto de regras que assegurou as fontes de financiamento, a normatividade do programa e as contrapartidas exigidas contribuíram para os resultados positivos em redução da mortalidade e na menor hospitalização por doenças que podem ser controladas com atenção básica, além da própria expansão do sistema e do número de pessoas que são atendidas. Estudo feito por Ligia e por Luiz Felipe Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostrou que entre 2001 e 2016 as internações por condições de saúde sensíveis à atenção básica diminuiu de 120 para 66 a cada 10 mil habitantes, redução de 45%. Isso significa que menos casos de asma, gastroenterite e pressão alta, entre outras doenças cuja prevenção e acompanhamento são feitos na atenção básica, foram parar em hospitais.
Para Menezes Filho, a combinação de um modelo bem desenhado de divisão de responsabilidades, de protocolos a serem seguidos e de contrapartidas tornaram o acompanhamento dos gastos e dos resultados mais transparente. Tudo isso, diz, ajuda a entender os avanços do programa. Ele aponta diferenças com relação à educação, na qual, apesar do aumento dos gastos, os resultados positivos são menos visíveis e concretos. “Na saúde é bem conhecido, internacionalmente, o que deve ser feito, como ter medidas de higiene, fazer exames, controlar a pressão, ter uma alimentação adequada. A ciência mostra o que deve ser feito. Na educação, contudo, não há consenso sobre o que deve ser feito. Também há menos cobranças, não há condicionalidades, não há acordo sobre o que deve ser feito.”
O trabalho que agentes como Denise e Solange Regina da Silva fazem em Diadema é, como elas mesmo definem, “preventivo”. O modelo pode variar de cidade para cidade. Ali, elas trabalham na rua três ou quatro dias por semana e visitam cerca de 12 famílias-pacientes por dia, enquanto o médico da equipe faz visita domiciliar uma vez por semana e nos outros dias atende na UBS. Os agentes não medem pressão nem aplicam injeções ou fazem curativos.
“Quando o paciente tem uma receita, checamos se ele está tomando a medicação direito. Muitos têm dificuldade em seguir o que o médico indicou”, diz Denise. “Anoto toda a conversa, registro os dados no sistema e, nas reuniões de equipe, os casos mais sérios são discutidos e levo de volta a resposta para a família”, relata Solange.
A médica da equipe de Denise é Gizella Ramalho Zanardi, formada há três anos e desde então trabalhando em Diadema. Ao contrário de muitos outros recém-formados, o currículo da sua faculdade (o Centro Universitário Lusíada, de Santos) já previa, desde o segundo ano, trabalho em unidades básicas de saúde, fazendo os alunos terem contato com o SUS. Em Diadema, suas visitas familiares estão centradas em 35 pacientes considerados “restritos”: pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção, como dona Francisca e, até recentemente, Vardelina.
Vardelina Silva de Aguilar Santana se deu alta das visitas de Gizelle e agora se consulta com a médica no posto. Ela foi diagnosticada, no SUS, com uma doença rara: a incapacidade do seu corpo de reter vitamina B. Apesar do acompanhamento inicial pela equipe da Saúde da Família, contudo, não foi no âmbito local do sistema público que sua doença foi descoberta. Ela começou a cair em 2012, fez exames, mas nada foi encontrado, e Valda, como é chamada carinhosamente pela agente de saúde, foi perdendo cada vez mais a mobilidade nas pernas. Até hoje se locomove principalmente em cadeira de rodas, embora já consiga caminhar pequenas distâncias, subir de muletas os quase 15 degraus que dão acesso a sua casa e cuidar da pequena neta Alice.
No início da doença, ela fez um convênio médico e pagou exames particulares, mas também não descobriu nada. Foi no Hospital São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), do SUS, que um exame de dosagem de vitamina indicou sua doença. Para Vardelina, o problema poderia ter sido resolvido mais cedo, se o exame específico tivesse sido pedido pela equipe da Saúde da Família. “Foi uma falha”, avalia. Ao mesmo tempo em que fica sempre repensando que seu marido poderia ter poupado “um dinheirão” na rede particular, Vardelina parou de pagar o convênio e voltou para o atendimento da unidade básica e faz fisioterapia no Luci Montoro, centro de reabilitação do SUS estadual.
Diadema paga um salário bruto de R$ 17 mil aos médicos com dedicação de 40 horas, mas a cada ano perde 30% deles para o setor privado ou mesmo público. “O problema começa no ensino. Os egressos das faculdades não estão preparados para essa realidade. Ainda domina a lógica do especialista e do atendimento de pronto-socorro”, avalia Sartori. Com o programa Mais Médicos, lembra, começaram mudanças nos currículos de medicina e odontologia, mas os municípios ainda precisam investir muito na formação desse profissional, acrescenta. Em Diadema operam hoje 96 equipes de Saúde da Família e 11 núcleos de apoio, equipes formadas por médicos especializados (pediatras, ginecologistas, cardiologistas) e outros profissionais (nutricionista, assistente social e psicólogo).
Nos últimos quatro anos, quando o Brasil enfrentou dificuldades para manter a trajetória de queda na taxa de mortalidade infantil, Diadema continuou melhorando. Em 2015, foram 14,2 mortes de crianças de até um ano para cada 1.000 nascidos vivos (89 bebês). No ano passado, a taxa caiu para 10,94%. Os bons resultados não têm sido em vão. Diadema gasta muito mais que o mínimo constitucional em saúde. Em 2018, 40% da arrecadação de impostos foi para essa área, sendo que 45,1% foram para atenção básica e 46,8% para o atendimento ambulatorial e hospitalar. Pela própria referência, Sartori vê com muita preocupação as regras que limitam os gastos em saúde no nível federal em um momento em que eles deveriam crescer. “Estamos congelando os gastos antes de termos atingido o montante ideal por habitante, e temos agravantes crescendo, como o envelhecimento da população e o aumento de casos de saúde mental e de violência”, pondera Schneider, coordenador de atenção básica em Diadema.
O envelhecimento da população já é uma realidade para Florianópolis, onde mais de 20% da população tem mais de 60 anos - na média do Brasil esse percentual está em 15%. Essa é uma das razões para a aposta do município em um forte programa de atenção básica, o que faz da capital catarinense uma exceção à “regra” pela qual a estratégia de Saúde da Família é mais forte nos pequenos municípios. Do total de 43 mil equipes no país todo, 14,3% operam nas capitais, onde está concentrada 31% da população. Em Florianópolis funcionam 138 equipes, cada uma atendendo cerca de 2,5 mil pessoas, e a busca de um modelo que equilibre qualidade e redução de custos é um mantra para o secretário local, Carlos Alberto Justo da Silva.
Ele trata o SUS na cidade como um plano que custa R$ 116 por habitante ao mês e cuja tendência é a de encarecimento, pois o atendimento dos idosos custa mais que o dos jovens. Silva diz que a cidade entendeu anos atrás que era preciso se preparar para os desafios que chegariam com o envelhecimento da população e a relativa escassez de recursos públicos, e, olhando para experiências internacionais, viu que a saúde da família é o modelo que permite ofertar mais qualidade com menos recursos, o que não significa que é uma opção barata.
Além de organizar a saúde pelo modelo das equipes, Florianópolis investiu em formação. Hoje, 75% dos médicos no programa (com salário de R$ 15 mil brutos) têm residência em saúde da família, o que faz com que a rotatividade seja um problema ainda pequeno. O percentual é alto porque o próprio município mantém uma Escola de Saúde Pública com residências em saúde da família e multiprofissional. E essa forte presença de médicos preparados faz diferença, diz Silva. A secretaria comparou o trabalho dos médicos sem nenhuma especialização, dos com especialização em saúde da família e daqueles com residência nesta área e constatou que esses últimos prescrevem menos remédios e pedem menos exames, sendo assim um profissional que, no conjunto, é mais barato para o município. Isso sem afetar a qualidade do atendimento, afirma, informando que 91% dos problemas do paciente são resolvidos na atenção primária, percentual próximo dos 94% de resolutividade registrados na Inglaterra.
Nas áreas centrais e mais ricas de Florianópolis não existe a figura do agente de saúde que bate de casa em casa. “Até porque ele vai encontrar muitas casas vazias, as pessoas estão trabalhando”, pondera o secretário, explicando que desloca os agentes para área mais pobres. A cidade trabalha com 23 indicadores de resultados, mas um deles é o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária, que hoje está em 19%, ante um percentual internacionalmente aceito de 16%. “Parte disso também está relacionado com o comportamento das pessoas, que, em vez de virem para a atenção primária, ainda preferem ir ao hospital e tirar uma fotografia. E quem não procura um atendimento continuado acaba tendo um agravamento da situação, diabetes, hipertensão, situação renal. Mas, aos poucos, a população está entendendo que é melhor tratar sua saúde como filme.”
Boa parte dos indicadores hoje acompanhados por Florianópolis estará presente na lista de resultados que medirão a qualidade do trabalho das equipes de Saúde da Família e servirão de base para o novo modelo de financiamento que o Ministério da Saúde quer implantar, que passa a considerar a população cadastrada numa região, e não a residente, para pagar a equipe.
O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Wilames Freire Bezerra, secretário na cidade de Pacatuba, Ceará, onde atuam 24 equipes de Saúde da Família, avalia que as mudanças que estão sendo planejadas pelo governo para mudar o financiamento e premiar as equipes com maior cobertura real de atendimento e com indicadores de resultado vai beneficiar justamente as pequenas e médias cidades, onde a proporção entre população e cadastrados é maior.
“Temos 80% dos municípios com mais de 80% da sua população cadastrada. Isso é menor nas capitais. Mas, se os municípios que fazem um bom trabalho, prezam pelo cadastro, receberem mais, isso é bom porque vai melhorar o acesso de quem precisa de atenção básica. Mas não podemos permitir que as demais cidades passem a receber menos. Elas podem não evoluir no acesso aos recursos, mas não vamos aceitar que retrocedam”, diz.
Outra mudança em discussão - e que também atinge mais fortemente as capitais e grandes cidades - é a do programa Médicos pelo Brasil, que substituirá o Mais Médicos, no qual trabalharam profissionais vindos de Cuba, cujo convênio foi encerrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as 43 mil equipes da saúde do Brasil, 40% tinham profissionais do Mais Médicos, segundo o Ministério da Saúde, mas a saída dos médicos cubanos deixou um espaço ainda não coberto. Em agosto, o governo estimava que faltavam 3,8 mil médicos. No desenho do Médicos pelo Brasil, o governo pretende “trocar” 7,1 mil vagas que hoje estão nas periferias das grandes e médias cidades para áreas do interior e avalia que a contratação por CLT com um salário que cresce quanto mais remota for a região pode ser o atrativo que faltava para fixar esse profissional longe dos grandes centros. Os salários do Médicos pelo Brasil, que começam em R$ 12 mil como bolsa de formação, podem chegar a R$ 21 mil para médicos que forem para regiões ribeirinhas ou aldeias indígenas.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2019/U/D/lQXdVYTI6A2JdKKZlOpw/foto20cul-201-capa-d20.jpg)
Denise é um dos cerca de 264 mil agentes que integram as 43 mil equipes de Saúde da Família espalhadas em 5.465 municípios brasileiros. Em 1998, eram apenas 2 mil equipes atendendo cerca de 7 milhões de pessoas. Hoje estima-se que 130 milhões de brasileiros são acompanhados por esses grupos de profissionais, que formam o núcleo da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Mais fortes no interior e nas pequenas e médias cidades, o trabalho preventivo e a expansão dessas equipes muitas vezes são ofuscados pela crise dos hospitais e das filas para consultas e exames nos grandes centros.
Em 1990, antes das primeiras equipes de Saúde da Família serem formadas, 53 crianças a cada 1.000 nascidas vivas morriam com menos de um ano. Essa taxa caiu continuamente ao longo de quase 30 anos e chegou em 12,4 a cada 1.000 nascidos vivos em 2015, tendo oscilado entre pequenas altas e baixas desde então. Também o número de mães que morrem a cada 100 mil crianças que nascem recuou de 104 para 44 entre 1990 e 2015, segundo dados compilados em um extenso estudo sobre o SUS publicado na revista “The Lancet”, uma das mais prestigiadas publicações médicas do mundo, assinado por 15 pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
O estudo chama atenção para o sucesso da estratégia de saúde da família como modelo de atenção primária, faz uma firme defesa do SUS sem deixar de apontar seus problemas e alerta para o risco de que a política fiscal implementada em 2016 e mantida pelo atual governo, com a regra do teto de gastos, comprometa os bons resultados obtidos nos últimos 30 anos e provoque um retrocesso no processo que ainda está em curso de melhoria nas condições de saúde da população, especialmente a parcela mais pobre.
O estudo trabalhou com quatro cenários de financiamento até 2030. No cenário que segue a regra do teto de gastos, de recursos mantidos em valor constante, mas sem reajuste além da inflação ou pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), haveria um crescimento da mortalidade infantil e de doenças cardiovasculares (entre outras pioras de indicadores de saúde), com maior deterioração nos pequenos municípios, onde o peso das transferências federais é maior do que nas grandes cidades.
O Ministério da Saúde prepara uma grande mudança no financiamento das equipes de Saúde da Família já a partir de 2020, mas o secretário de Atenção Básica, Erno Harzheim, informa que a ideia não é reduzir, mas aumentar gradativamente o volume de recursos destinados à atenção básica. População efetivamente atendida e qualidade passarão a ser a base da remuneração. Em 2019, 16,6% do orçamento federal para saúde foi destinado à atenção básica e, no modelo desenhado pelo novo governo, essa parcela vai aumentar para 20,5% até 2022. Isoladamente, contudo, cada equipe poderá receber mais ou menos em relação ao que recebe hoje, dependendo de um sistema de avaliação de resultados que será implantado no próximo ano. (veja entrevista em Mudança vai aumentar verba, diz secretário)
Antes de 1998 o Brasil não possuía nenhuma rede de atenção à saúde para as pessoas pobres e que não tinham um emprego formal, lembra Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas (CPP) do Insper e um dos autores do estudo publicado no “The Lancet”. Para ele, o papel do Bolsa Família é muito valorizado, com toda razão, mas o SUS e especialmente o Saúde da Família são muito pouco discutidos, embora tenham sido fundamentais na redução da mortalidade infantil e no controle das doenças cardiovasculares, entre outros indicadores de saúde. “Milhões de famílias não tinham informação sobre coisas básicas de saúde, tinham só a TV, e passam a receber essas orientações e a fazer coisas básicas que nós sabemos que funcionam, como lavar as mãos e medir a pressão dos mais velhos”, diz Menezes Filho.
Por regra, as 43 mil equipes de Saúde da Família espalhadas pelo Brasil são compostas por pelo menos cinco agentes comunitários, dois técnicos de enfermagem, um enfermeiro e um médico. “Antes da formação das equipes, tínhamos a hegemonia dos hospitais e o atendimento focado no contribuinte da Previdência. Com carteira de trabalho, você tinha assistência médica. Sem ela, nada. O máximo que havia eram portinhas, pequenos postos de saúde com um pediatra e um ginecologista. Com o SUS, tudo muda. Você teve que construir o que não existia, e não bastava só transformar aquela portinha em casas grandes, precisava funcionar. E a inspiração vem do modelo de agentes de saúde que você tinha no Ceará e Pernambuco”, diz Luiz Claudio Sartori, secretário de Saúde de Diadema, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), com 25 anos de atuação no SUS.
O Programa de Agentes Comunitários da Saúde se transformou em Programa de Saúde da Família com a incorporação de médicos e enfermeiros na virada de 1993/1994, e foi posteriormente rebatizado de Estratégia Saúde da Família. E as equipes passaram a trabalhar com o conceito de território definido, onde cada equipe é responsável por cerca de mil famílias que vivem em uma dada região, rigidamente definida. “Você não tem mais de 20 a 30 pessoas trabalhando soltas em uma Unidade Básica de Saúde”, explica Douglas Schneider Filho, coordenador de Atenção Básica em Diadema. “Esse modelo permite à equipe mapear desigualdades, conhecer as famílias, dividir seus pacientes por risco, conhecer onde estão os diabéticos, os hipertensos, as mães com gravidez de risco”, diz Sartori. E é esse mapeamento que se transforma em uma das especificidades que faz toda diferença no programa, dizem os dois gestores de saúde. Em Diadema, todo o sistema de saúde está informatizado, não apenas as informações que precisam ser, por lei, remetidas para o Ministério da Saúde.
A Constituição de 1988 adotou a saúde gratuita como direito universal para todos os brasileiros. Com ela nasce o SUS, e desde o início foi estabelecida uma clara divisão de tarefas entre União, Estados e municípios, aos quais ficou destinada a execução da atenção básica. Desde a criação do SUS e especialmente após as regras que definiram um percentual fixo de receita para a área (15% para os municípios e 12% para os Estados), os gastos com saúde pública no Brasil cresceram e chegaram a 4,05% do PIB em 2017, segundo dados compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
A participação de cada ente federativo, contudo, mudou muito, com redução da parcela federal e forte incremento da presença municipal - que passou de 22% em 2000 para 31% do total em 2017. A redução proporcional da União ocorreu, em parte, porque a fixação de um percentual mínimo dos seus gastos em saúde só veio em 2015 (previsão de 15% em 2020 com correção pelo PIB), mas essa regra foi alterada com a emenda do teto dos gastos que limita o crescimento à inflação do ano anterior. Essa regra, junto com a decisão do atual governo de fazer um forte ajuste fiscal, é uma grande preocupação dos gestores e pesquisadores na área, pelo retrocesso que pode provocar nas condições de vida da população. “Temos uma crise fiscal, mas é preciso resolvê-la de forma inteligente. Eu não cortaria em saúde. É um gasto que tem um impacto social enorme, está salvando vidas, você não pode restringir o acesso da população à saúde”, defende Menezes Filho.
Os grandes avanços no Saúde da Família passam a vir mais fortemente a partir de 1996/98, quando uma norma operacional básica (NOB) definiu que os recursos seriam repassados do Fundo Nacional de Saúde para fundos estaduais e municipais, estabeleceu contrapartidas dos gestores e, principalmente, alterou a lógica de cálculo dos recursos para os municípios. Eles deixaram de ter como base o número de procedimentos e passaram a ser calculados com base no número de habitantes. Estavam ali estabelecidas duas outras âncoras para o sucesso do programa: repasse condicionado a contrapartidas e ampliação do acesso (e não mais número de atendimentos) como base da remuneração.
O sistema de transferência de recursos foi montado com dois pisos de atenção básica, um fixo (valor per capita baseado na população da cidade, que hoje vai de R$ 23 a R$ 28) e um variável (diretamente relacionado à criação e manutenção de equipes de Saúde da Família, que vai de R$ 7,1 mil a R$ 10,7 mil). Para cada um desses valores existem condicionalidades bem específicas. A transferência do valor fixo, por exemplo, pode ser interrompida se o município não abastecer o sistema de informações do SUS, que registra desde vacinações até internações hospitalares. Além desses dois pisos, existe uma terceira remuneração definida pela qualidade, mas ela é por adesão. Das 43 mil equipes, 36 mil se submetem a essa avaliação feita de três em três anos, cuja classificação de ruim a ótimo define um adicional de pagamento. O governo transfere R$ 4,5 bilhões em PAB fixo, R$ 5 bilhões em variável e R$ 1,9 bilhão pela avaliação de qualidade.
Para a professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), Ligia Giovanella, uma das razões do sucesso da estratégia de Saúde da Família é “sua continuidade ao longo de décadas”, em diferentes governos. “Ela representa um novo modelo da atenção básica de saúde, que junta tanto o olhar para o indivíduo como para a população e o território onde ela vive”, pondera. Além da abordagem territorial, baseada nas equipes, e que difere do modelo tradicional de posto de saúde, diz Ligia, outra autora do estudo do “The Lancet”, o conjunto de regras que assegurou as fontes de financiamento, a normatividade do programa e as contrapartidas exigidas contribuíram para os resultados positivos em redução da mortalidade e na menor hospitalização por doenças que podem ser controladas com atenção básica, além da própria expansão do sistema e do número de pessoas que são atendidas. Estudo feito por Ligia e por Luiz Felipe Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostrou que entre 2001 e 2016 as internações por condições de saúde sensíveis à atenção básica diminuiu de 120 para 66 a cada 10 mil habitantes, redução de 45%. Isso significa que menos casos de asma, gastroenterite e pressão alta, entre outras doenças cuja prevenção e acompanhamento são feitos na atenção básica, foram parar em hospitais.
Para Menezes Filho, a combinação de um modelo bem desenhado de divisão de responsabilidades, de protocolos a serem seguidos e de contrapartidas tornaram o acompanhamento dos gastos e dos resultados mais transparente. Tudo isso, diz, ajuda a entender os avanços do programa. Ele aponta diferenças com relação à educação, na qual, apesar do aumento dos gastos, os resultados positivos são menos visíveis e concretos. “Na saúde é bem conhecido, internacionalmente, o que deve ser feito, como ter medidas de higiene, fazer exames, controlar a pressão, ter uma alimentação adequada. A ciência mostra o que deve ser feito. Na educação, contudo, não há consenso sobre o que deve ser feito. Também há menos cobranças, não há condicionalidades, não há acordo sobre o que deve ser feito.”
O trabalho que agentes como Denise e Solange Regina da Silva fazem em Diadema é, como elas mesmo definem, “preventivo”. O modelo pode variar de cidade para cidade. Ali, elas trabalham na rua três ou quatro dias por semana e visitam cerca de 12 famílias-pacientes por dia, enquanto o médico da equipe faz visita domiciliar uma vez por semana e nos outros dias atende na UBS. Os agentes não medem pressão nem aplicam injeções ou fazem curativos.
“Quando o paciente tem uma receita, checamos se ele está tomando a medicação direito. Muitos têm dificuldade em seguir o que o médico indicou”, diz Denise. “Anoto toda a conversa, registro os dados no sistema e, nas reuniões de equipe, os casos mais sérios são discutidos e levo de volta a resposta para a família”, relata Solange.
A médica da equipe de Denise é Gizella Ramalho Zanardi, formada há três anos e desde então trabalhando em Diadema. Ao contrário de muitos outros recém-formados, o currículo da sua faculdade (o Centro Universitário Lusíada, de Santos) já previa, desde o segundo ano, trabalho em unidades básicas de saúde, fazendo os alunos terem contato com o SUS. Em Diadema, suas visitas familiares estão centradas em 35 pacientes considerados “restritos”: pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção, como dona Francisca e, até recentemente, Vardelina.
Vardelina Silva de Aguilar Santana se deu alta das visitas de Gizelle e agora se consulta com a médica no posto. Ela foi diagnosticada, no SUS, com uma doença rara: a incapacidade do seu corpo de reter vitamina B. Apesar do acompanhamento inicial pela equipe da Saúde da Família, contudo, não foi no âmbito local do sistema público que sua doença foi descoberta. Ela começou a cair em 2012, fez exames, mas nada foi encontrado, e Valda, como é chamada carinhosamente pela agente de saúde, foi perdendo cada vez mais a mobilidade nas pernas. Até hoje se locomove principalmente em cadeira de rodas, embora já consiga caminhar pequenas distâncias, subir de muletas os quase 15 degraus que dão acesso a sua casa e cuidar da pequena neta Alice.
No início da doença, ela fez um convênio médico e pagou exames particulares, mas também não descobriu nada. Foi no Hospital São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), do SUS, que um exame de dosagem de vitamina indicou sua doença. Para Vardelina, o problema poderia ter sido resolvido mais cedo, se o exame específico tivesse sido pedido pela equipe da Saúde da Família. “Foi uma falha”, avalia. Ao mesmo tempo em que fica sempre repensando que seu marido poderia ter poupado “um dinheirão” na rede particular, Vardelina parou de pagar o convênio e voltou para o atendimento da unidade básica e faz fisioterapia no Luci Montoro, centro de reabilitação do SUS estadual.
Diadema paga um salário bruto de R$ 17 mil aos médicos com dedicação de 40 horas, mas a cada ano perde 30% deles para o setor privado ou mesmo público. “O problema começa no ensino. Os egressos das faculdades não estão preparados para essa realidade. Ainda domina a lógica do especialista e do atendimento de pronto-socorro”, avalia Sartori. Com o programa Mais Médicos, lembra, começaram mudanças nos currículos de medicina e odontologia, mas os municípios ainda precisam investir muito na formação desse profissional, acrescenta. Em Diadema operam hoje 96 equipes de Saúde da Família e 11 núcleos de apoio, equipes formadas por médicos especializados (pediatras, ginecologistas, cardiologistas) e outros profissionais (nutricionista, assistente social e psicólogo).
Nos últimos quatro anos, quando o Brasil enfrentou dificuldades para manter a trajetória de queda na taxa de mortalidade infantil, Diadema continuou melhorando. Em 2015, foram 14,2 mortes de crianças de até um ano para cada 1.000 nascidos vivos (89 bebês). No ano passado, a taxa caiu para 10,94%. Os bons resultados não têm sido em vão. Diadema gasta muito mais que o mínimo constitucional em saúde. Em 2018, 40% da arrecadação de impostos foi para essa área, sendo que 45,1% foram para atenção básica e 46,8% para o atendimento ambulatorial e hospitalar. Pela própria referência, Sartori vê com muita preocupação as regras que limitam os gastos em saúde no nível federal em um momento em que eles deveriam crescer. “Estamos congelando os gastos antes de termos atingido o montante ideal por habitante, e temos agravantes crescendo, como o envelhecimento da população e o aumento de casos de saúde mental e de violência”, pondera Schneider, coordenador de atenção básica em Diadema.
O envelhecimento da população já é uma realidade para Florianópolis, onde mais de 20% da população tem mais de 60 anos - na média do Brasil esse percentual está em 15%. Essa é uma das razões para a aposta do município em um forte programa de atenção básica, o que faz da capital catarinense uma exceção à “regra” pela qual a estratégia de Saúde da Família é mais forte nos pequenos municípios. Do total de 43 mil equipes no país todo, 14,3% operam nas capitais, onde está concentrada 31% da população. Em Florianópolis funcionam 138 equipes, cada uma atendendo cerca de 2,5 mil pessoas, e a busca de um modelo que equilibre qualidade e redução de custos é um mantra para o secretário local, Carlos Alberto Justo da Silva.
Ele trata o SUS na cidade como um plano que custa R$ 116 por habitante ao mês e cuja tendência é a de encarecimento, pois o atendimento dos idosos custa mais que o dos jovens. Silva diz que a cidade entendeu anos atrás que era preciso se preparar para os desafios que chegariam com o envelhecimento da população e a relativa escassez de recursos públicos, e, olhando para experiências internacionais, viu que a saúde da família é o modelo que permite ofertar mais qualidade com menos recursos, o que não significa que é uma opção barata.
Além de organizar a saúde pelo modelo das equipes, Florianópolis investiu em formação. Hoje, 75% dos médicos no programa (com salário de R$ 15 mil brutos) têm residência em saúde da família, o que faz com que a rotatividade seja um problema ainda pequeno. O percentual é alto porque o próprio município mantém uma Escola de Saúde Pública com residências em saúde da família e multiprofissional. E essa forte presença de médicos preparados faz diferença, diz Silva. A secretaria comparou o trabalho dos médicos sem nenhuma especialização, dos com especialização em saúde da família e daqueles com residência nesta área e constatou que esses últimos prescrevem menos remédios e pedem menos exames, sendo assim um profissional que, no conjunto, é mais barato para o município. Isso sem afetar a qualidade do atendimento, afirma, informando que 91% dos problemas do paciente são resolvidos na atenção primária, percentual próximo dos 94% de resolutividade registrados na Inglaterra.
Nas áreas centrais e mais ricas de Florianópolis não existe a figura do agente de saúde que bate de casa em casa. “Até porque ele vai encontrar muitas casas vazias, as pessoas estão trabalhando”, pondera o secretário, explicando que desloca os agentes para área mais pobres. A cidade trabalha com 23 indicadores de resultados, mas um deles é o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária, que hoje está em 19%, ante um percentual internacionalmente aceito de 16%. “Parte disso também está relacionado com o comportamento das pessoas, que, em vez de virem para a atenção primária, ainda preferem ir ao hospital e tirar uma fotografia. E quem não procura um atendimento continuado acaba tendo um agravamento da situação, diabetes, hipertensão, situação renal. Mas, aos poucos, a população está entendendo que é melhor tratar sua saúde como filme.”
Boa parte dos indicadores hoje acompanhados por Florianópolis estará presente na lista de resultados que medirão a qualidade do trabalho das equipes de Saúde da Família e servirão de base para o novo modelo de financiamento que o Ministério da Saúde quer implantar, que passa a considerar a população cadastrada numa região, e não a residente, para pagar a equipe.
O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Wilames Freire Bezerra, secretário na cidade de Pacatuba, Ceará, onde atuam 24 equipes de Saúde da Família, avalia que as mudanças que estão sendo planejadas pelo governo para mudar o financiamento e premiar as equipes com maior cobertura real de atendimento e com indicadores de resultado vai beneficiar justamente as pequenas e médias cidades, onde a proporção entre população e cadastrados é maior.
“Temos 80% dos municípios com mais de 80% da sua população cadastrada. Isso é menor nas capitais. Mas, se os municípios que fazem um bom trabalho, prezam pelo cadastro, receberem mais, isso é bom porque vai melhorar o acesso de quem precisa de atenção básica. Mas não podemos permitir que as demais cidades passem a receber menos. Elas podem não evoluir no acesso aos recursos, mas não vamos aceitar que retrocedam”, diz.
Outra mudança em discussão - e que também atinge mais fortemente as capitais e grandes cidades - é a do programa Médicos pelo Brasil, que substituirá o Mais Médicos, no qual trabalharam profissionais vindos de Cuba, cujo convênio foi encerrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as 43 mil equipes da saúde do Brasil, 40% tinham profissionais do Mais Médicos, segundo o Ministério da Saúde, mas a saída dos médicos cubanos deixou um espaço ainda não coberto. Em agosto, o governo estimava que faltavam 3,8 mil médicos. No desenho do Médicos pelo Brasil, o governo pretende “trocar” 7,1 mil vagas que hoje estão nas periferias das grandes e médias cidades para áreas do interior e avalia que a contratação por CLT com um salário que cresce quanto mais remota for a região pode ser o atrativo que faltava para fixar esse profissional longe dos grandes centros. Os salários do Médicos pelo Brasil, que começam em R$ 12 mil como bolsa de formação, podem chegar a R$ 21 mil para médicos que forem para regiões ribeirinhas ou aldeias indígenas.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2019/U/D/lQXdVYTI6A2JdKKZlOpw/foto20cul-201-capa-d20.jpg)
Fonte: Valor
Obrigado por comentar!
Erro!